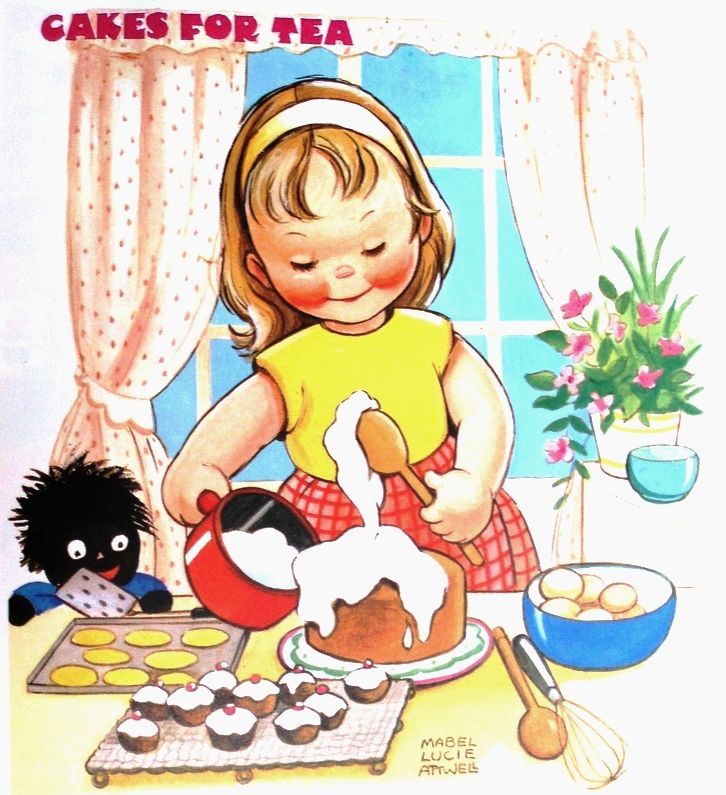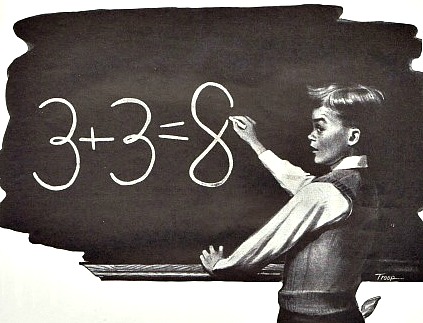O que torna seus atos autênticos, segundo a filosofia oriental
Se os pacientes fossem mais escutados e orientados, o prolongamento da vida se mostraria, muitas vezes, menos importante que o bem-estar, garantido pelo simples cuidado e suporte emocional.
Santo Agostinho, em reflexão sobre a autenticidade dos nossos atos, destacou que se fizemos – ou deixamos de fazer – algo por causa da punição, é porque não temos medo de pecar, temos medo de queimar. Portanto, um ato movido por algum interesse pessoal, como evitar uma perda ou buscar uma recompensa, seria menos autêntico, perderia o valor – caso fosse julgado por uma entidade externa, capaz de acessar e avaliar nossas verdadeiras intenções.
A conclusão do filósofo cristão reflete uma ideia que prevalece no pensamento ocidental: temos uma identidade única e consistente, que conduz e valida as ações. Ela prediz as intenções e é sujeita a julgamentos que geralmente levam à culpa e ansiedade: se faço o bem ao outro pensando em mim e não no outro não sou necessariamente uma pessoa boa, nem autêntica, e devo me culpar por isso; também não tenho acesso à verdadeira intenção por trás dos gestos dos outros, mas pressuponho que sejam mais autênticos que os meus, e assim me sinto ainda mais fraco, mais longe do ideal cristão de Santo Agostinho.
Mas a culpa só cumpre uma função social se estiver relacionada ao livre-arbítrio, àquilo que podemos controlar. O problema é que ninguém nos ensina a ter domínio sobre os sentimentos. Ensinam que devemos amar ao próximo, amar a Deus, fazer o bem pelo bem e rejeitar qualquer tipo de pensamento imoral ou negativo sob ameaça de castigo divino ou de ter que arrastar culpa ao longo da vida – um fardo que não pode ser dividido e que o outro dificilmente é capaz de aliviar.
O motivo pelo qual não aprendemos a controlar sentimentos usando a força de vontade é simples: porque não é possível. Os sentimentos são composições de uma série de experiências, muitas das quais estão longe da consciência. Não precisam ser evocados para surgirem nem podem ser desligados segundo nossos desejos.
Por outro lado, sobre as ações temos o controle. Há o medo da punição, há o medo da culpa, da vergonha, do remorso. E se isso torna os atos menos autênticos, autenticidade torna-se algo inatingível.
Não há caminho para a formação de caráter que não passe pelas conhecidas emoções morais – aquelas construídas nas interações com base em recompensas e repreensões, no “medo de queimar”. Começam no primeiro castigo dado pelos pais, em um movimento que vem de fora para dentro, do medo para a vergonha. Esse é o fundamento da empatia, da generosidade, da gentileza.
A vergonha, defende a filosofia oriental, é a base que molda o caráter. Mas é consequência de ações e não de emoções; relacioná-la a outros sentimentos é inútil. Segundo Confúcio, a vergonha é a ponte para a conexão consigo mesmo, pois é o principal sinal de que se está desapontado com as próprias atitudes, por não estarem de acordo com os padrões estabelecidos para si e criados a partir das relações sociais. A vergonha seria, segundo ele, o oposto de felicidade e o caminho para a autenticidade.
Se Confúcio pudesse debater o tema com o Santo Agostinho, visões diferentes sobre o conceito de autenticidade surgiriam na discussão. Para o filósofo chinês, ser autêntico é viver de forma virtuosa e agir não de acordo com o que se sente, mas com o que se espera de si. Ou seja, se fizermos ou deixamos de fazer algo com medo da punição, estamos dispostos a nos transformar por meio da ação.
Na filosofia chinesa, ser autêntico não significa viver segundo uma identidade construída para si ou agir de acordo com essa identidade. É um conceito que se confunde com honestidade e está relacionado com o controle sobre as ações. E é neste controle, na prática da ética e da verdade, que reside a felicidade.
São os atos, os pequenos rituais sociais que devemos cumprir – independentemente dos sentimentos – que nos fazem honestos e livres (o que poderia representar melhor a liberdade que não o controle sobre as próprias ações, a capacidade de levar mais consciência para as atitudes e sentimentos?).
A verdadeira intenção de um ato, portanto, não tem mais valor que o ato em si, pois não é claramente definida e não pode ser controlada. As intenções, filhas dos sentimentos, são fluidas e vulneráveis.
“Apesar de sermos convencidos de que liberdade reside em descobrir o autêntico 'eu', essa descoberta é, precisamente, o que nos aprisiona”, explica o professor em história chinesa Michael Puett, da Universidade de Harvard, no livro The Path (O Caminho) escrito em parceria com a especialista em filosofia oriental, Christine Gross-Logh.
“As pessoas têm emoções, desejos e formas diferentes e muitas vezes contraditórias de responder ao ambiente. Nossas disposições emocionais se desenvolvem quando olhamos para fora e não para dentro. Não são cultivadas quando você se distancia do mundo; são formadas na prática, por meio das coisas que você faz no dia a dia: as formas como interage com outros e as atividades que exerce”.
Nem sempre, portanto, “seja você mesmo” é um bom conselho; e raramente “o que vale é a intenção”. No desenvolvimento das virtudes, o que vale são sempre as ações e são elas que modelam o caráter, e não o contrário. Essa visão torna possível a transformação do descontentamento consigo mesmo – uma marca da geração mimada que habita uma época chamada por Puett de Era da Condescendência – em ações virtuosas, baseadas no exercício de rituais que poderiam ser considerados não autênticos: fazer o que não se tem vontade, colocar a ética acima do ego e praticar a gentileza e o respeito ao outro mesmo nos nossos piores dias.
Leia também: